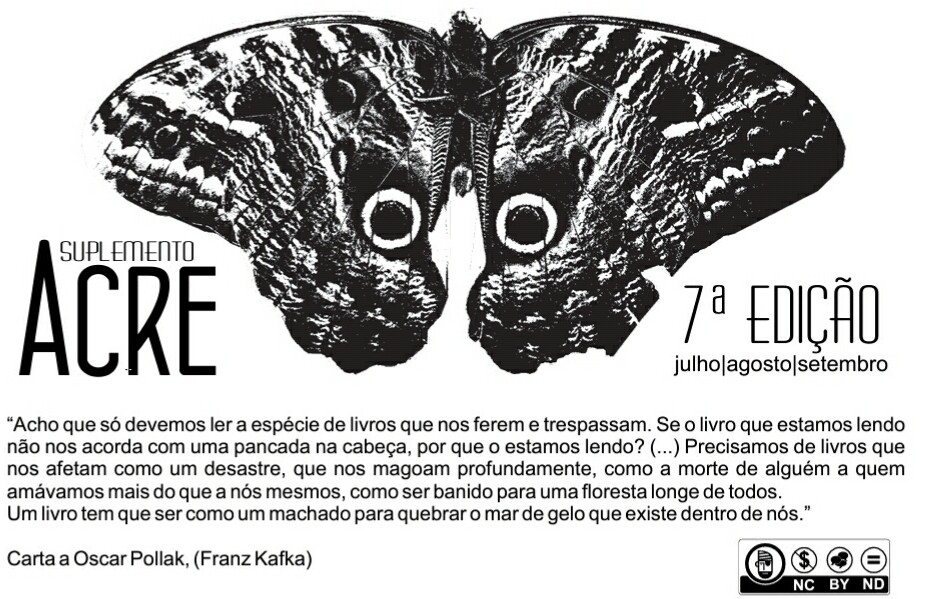Tomo a vida
como um grande bloco de papel. Tenho folhas em branco, um lápis e uma borracha.
Algumas vezes
posso apagar os erros. Outras, prefiro só dar um traço por cima e seguir
adiante. Não raras são as vezes em que percebo que a falha está lá atrás, de
modo que não a posso apagar e sigo.
O fato é que,
todas as manhãs tenho novas oportunidades para me reescrever, me reinventar e,
disso tudo, sobra-me o direito do uso e do abuso do que tenho em mãos: meus
lápis e borracha.
É muito mais
simples que eu me permita a fixidez das rotinas e do cotidiano acinzentado do
grafite: seguir o fluxo é sempre menos cansativo, menos exigente, menos
arriscado e até mais confortável. Lamentável essa comodidade, mas é uma
possibilidade.
Ao contrário,
posso ser mais. Posso ousar. Posso escrever as minhas linhas e ilustra-las.
Posso valer-me de outros tantos lápis, outras tantas cores e formas e deixar
tudo muito diferente. Há riscos. Há erros. Há contornos que não são fáceis de
se fazer. Há nuances muito sutis que nem sempre percebo, mas são essas
possibilidades que mais me encantam diante da vida: o inesperado.
Uso o dia como
meu laboratório de criação: escrevo, pinto, bordo, rimo e canto. Falho e apago.
Falho e me afago, lambendo feridas, mas orgulhosamente, assumindo os erros em
vez de apagá-los. Tudo isso depende muito: da fase da lua, da enchente das
marés, das batidas de meu coração.
E faço do
coração meu tinteiro preferido: dessa tinta não há voltas. Não há como apagar. Tudo
o que se traça marca a pele e a alma. Tudo finda, nada se esquece. É do coração
que sai a tinta-inspiração mais forte. É dele que saem meus croquis mais
apaixonados, os versos mais encarnados.
Mas ainda reservo-me
à tinta-razão, à tinta-planejamento, aquela que queima horas a fio em hipóteses
e ensaios vãos. Vãos... justamente aqueles espaços entre o tempo e a ação que não
ouso atravessar e perco tudo o que foi pensado. Aqueles traços que esboço e
volto apagando por um motivo ou outro. E uso minha ferramenta mais desprezada:
a borracha.
Valho-me da
borracha só para reparos essenciais. Cabe a ela o alívio dos perdões, o novo
suspiro de quem se sufocava com a mágoa. A devolução da tranquilidade, da noite
de sono, da paz de espírito. Borracha-alívio, borracha-salvação.
Permito-me
erros porque sou humana. Permito-me os erros porque tenho limites que não são
intransponíveis e, sendo responsável pela criação do meu roteiro de vida, não
posso enganar-me que tocarei a perfeição.
Munida de meus
lápis e borracha e tendo a vida como bloco de notas, como bloco de papel à
minha disposição, assumo a responsabilidade pela história que escrevo (dessa
vida), mas reconheço que se a borracha ameaça a acabar antes do lápis é um
sinal de que estou passando dos limites. Que me venham as reflexões!